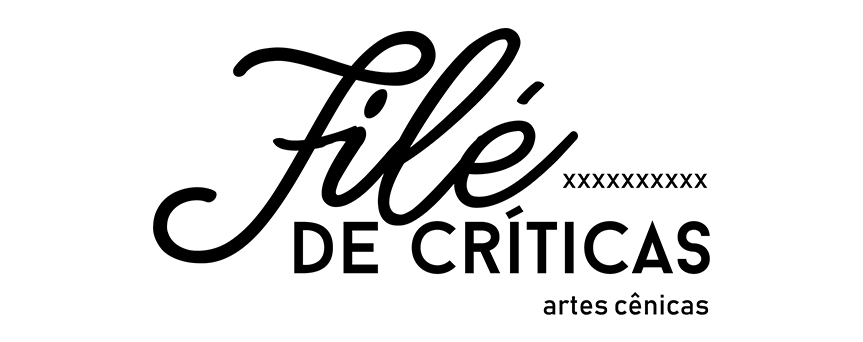Tessitura _ Felipe Benicio*
A memória é um banco de dados corrompido, e, a cada vez que o acessamos, corremos o risco de adulterá-lo, realçando este ou aquele detalhe, ou mesmo reinterpretando fatos passados à luz de conhecimentos posteriores. Porque é da natureza da memória ser elíptica, condensada, como um quebra-cabeça de imagens em sobreposição.
Tomando de empréstimo o título de uma canção de Júnior Almeida e Zé Paulo, A memória da flor, espetáculo da companhia Teatro da Poesia (AL), materializa em cena esses complexos mecanismos do lembrar (e do esquecer), por meio da história do casal Flora (Louryne Simões) e Tom (Jamerson Soares). O grupo opta por nos contar essa história em uma ordem não cronológica, indo e vindo no tempo, intercalando (e, por vezes, misturando) passado e presente, criando, assim, uma espécie de mosaico de arestas muito fluidas — como a memória. Um elemento de grande importância na construção dessa estética mnemônica, por assim dizer, é a iluminação, executada com precisão e sensibilidade, compondo as cenas de maneira orgânica junto com Tom e Flora, como numa valsa dançada a três — a luz e os corpos.

Em seu prólogo, em que as personagens ficam repetindo várias vezes que já se esqueceram uma da outra, a peça traz à tona aquilo que pode ser considerado um elemento constituinte de obras que abordam o tema da memória — o esquecimento. Se, por um lado, temos a mnemotécnica, que ajudou a humanidade a armazenar e organizar informações por meio de exercícios de repetição; por outro, como bem observou Umberto Eco, “percebeu-se muito cedo que era impossível inventar uma técnica para esquecer, porque é impossível esquecer voluntariamente”, uma vez que, “em geral o esquecimento é acidental e involuntário”. Nesse sentido, é bastante significativo que, na cena de abertura da peça, as personagens estejam utilizando uma técnica geralmente empregada para nos ajudar a lembrar das coisas (a repetição) para afirmar justamente o seu oposto (o esquecimento). Dessa forma, ao afirmar repetidas vezes que esqueceram, o que as personagens estão realmente fazendo é lembrar-se de que nada foi esquecido. E isso já aponta para conflitos que vão se estender e se intensificar por todo o espetáculo.
A peça, em seu fluxo e refluxo temporal, instaura um jogo dramatúrgico que faz nascer uma dúvida: qual dessas duas personagens é aquela que ocupa o privilegiado ponto de vista do presente, e que viveu e sobreviveu a todas as fases desse relacionamento — desde quando se conheceram em uma casa noturna onde Flora cantava, passando pelas crises e desavenças, até chegar ao momento depois do fim? E quem seria o fantasma, a personificação de memórias que ora deleitam, ora perturbam? Ou será que ambas as personagens revezam-se continuamente entre esses lugares? A partir dessas reflexões, o próprio título da peça pode ser entendido em duas vias: em uma, “a memória da flor” pode significar a memória de Flora, ou seja, a lembrança de Tom que pertence à Flora; em outra, pode significar a lembrança de Flora que permanece em Tom. O desfecho da peça deixa bem claro qual dessas duas acepções prevalece, mas durante todo o espetáculo essa é uma dúvida que vai e volta em nossa mente.

O texto, concebido por Louryne e pelo diretor, Jadir Pereira, é um dos pontos fortes do espetáculo, pelo que reverbera de poético, mas também pela sua construção, que opera dentro de uma economia textual em que nada é gratuito, dando origem a uma rede imagens na qual mesmo a frase mais trivial — como “eu já sei aonde os trilhos dessa conversa irão nos levar” — pode esconder sob a sua superfície um significado profundo e dilacerador. Isso porque, além do passado do casal, alguns flashbacks (à maneira de pequenos solilóquios) exploram também o passado das personagens. A peça, portanto, abre-se constantemente para dentro de si mesma, resgatando do fundo do Lete as informações cruciais para que o público entenda não apenas a história de Flora e Tom enquanto casal, mas suas trajetórias e traumas e conflitos pessoais. Mas tudo isso sob o signo da sutileza, em que é mostrada a ponta do iceberg — seguindo o conselho Ernest Hemingway acerca das narrativas curtas —, para que o público deduza (e construa em sua mente) tudo aquilo que está sob a água, fora do alcance do visível.
Talvez tenha sido justamente para preservar a potência e as sutilezas desse texto que os dois artistas em cena, bem como o diretor, tenham escolhido uma clave de interpretação alguns tons acima do natural, na qual impera uma prosódia em que as palavras são excessivamente articuladas, o que acaba remetendo à artificialidade de grande parte da teledramaturgia brasileira. É necessário deixar claro que a opção por uma atuação não-naturalista não representa um problema em si, afinal, os/as artistas têm à sua disposição um leque de possibilidades dentre as quais escolhem aquilo que julgam ser a melhor para suas obras.

Embora A memória da flor goze de certa harmonia na articulação de seus elementos teatrais, é na atuação e na caracterização das personagens que estão as suas maiores fragilidades. O mon cheri e o cigarro de Flora não convencem enquanto elementos orgânicos da personagem (parecem responder mais a um estímulo que vem de fora para dentro), e a sua apresentação visual (figurino, cabelo, maquiagem e até mesmo sua postura em cena) segue um caminho diametralmente oposto à sua tão alardeada decadência.
Mas essa é uma questão que pesa de maneira acentuada no trabalho de Jamerson, que emprega demasiada energia e tende a dilatar até mesmo o menor dos movimentos, o que faz com que seu corpo esteja quase todo o tempo teso, e as suas mãos a todo momento trêmulas, e a sua respiração sempre arquejante. Como disse acima, tratam-se de escolhas; mas essa expansão e esse exagero constantes, a meu ver, acabam distanciando a personagem do público, impedindo a criação de uma relação de empatia. Por exemplo, em algumas ocasiões em que o texto da peça busca um alívio no humor (mais um de seus tantos deleites), isso quase não surte efeito, por conta, creio eu, desse abismo que a proposta de atuação faz nascer entre personagem e público.
Mas nada disso impede que a peça cause atravessamentos em que a assiste. Na apresentação de ontem, em um momento inusitado e muito bonito, durante o bate-papo após o espetáculo, um homem que estava na plateia pediu a fala e disse que havia assistido a essa mesma peça no ano anterior e que agora, ali, gostaria de ler dois poemas que ele próprio escrevera inspirado em A memória da flor. E acho que isso foi um presente tanto para o Teatro da Poesia quanto para todos/as nós que estávamos no Teatro Hermeto Pascoal, pois fomos testemunhas de que o ciclo da arte pode se tornar uma espiral infinita, em que uma obra dá origem a outra, e mais outra e mais outra, até que um dia possamos inundar o mundo inteiro de poesia.
* Felipe Benicio é poeta, ficcionista e doutorando em Estudos Literários (Ufal). É também membro dos conselhos editoriais da Revista Fantástika 451 (SP) e da revista do Coletivo Volante de Teatro, #Textão (AL) e colaborador do Coletivo Filé de Críticas.
Espetáculo: A memória da Flor.
Teatro da Poesia (AL)
Fotografias: Frederico Ishikawa